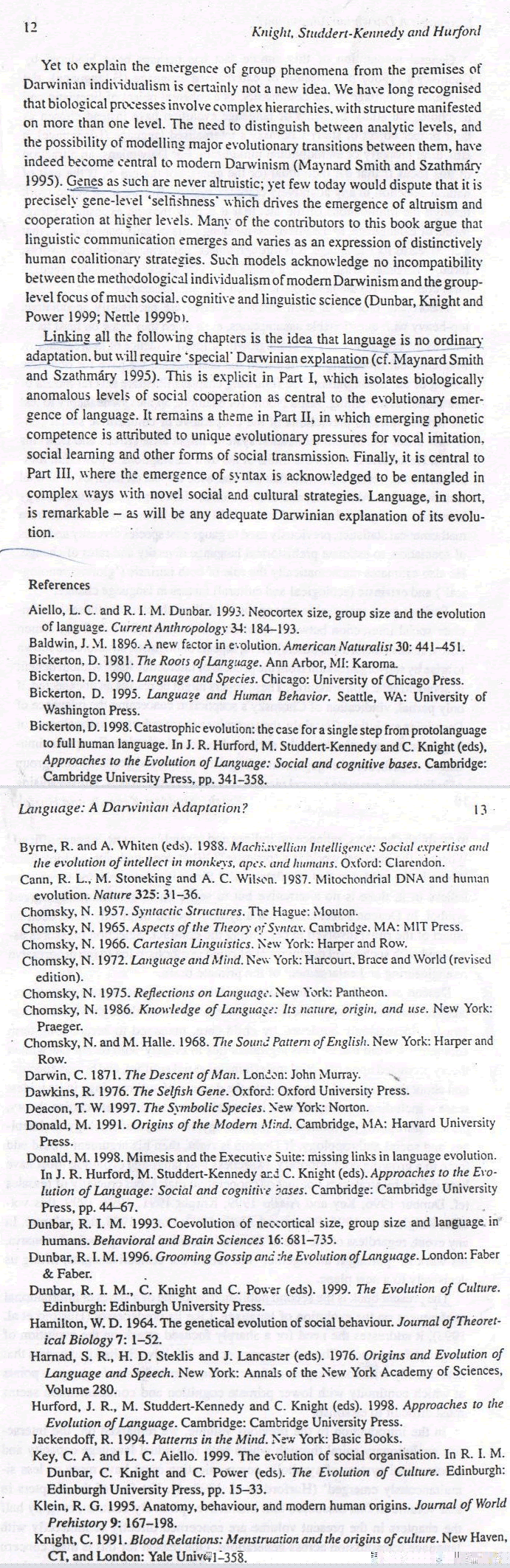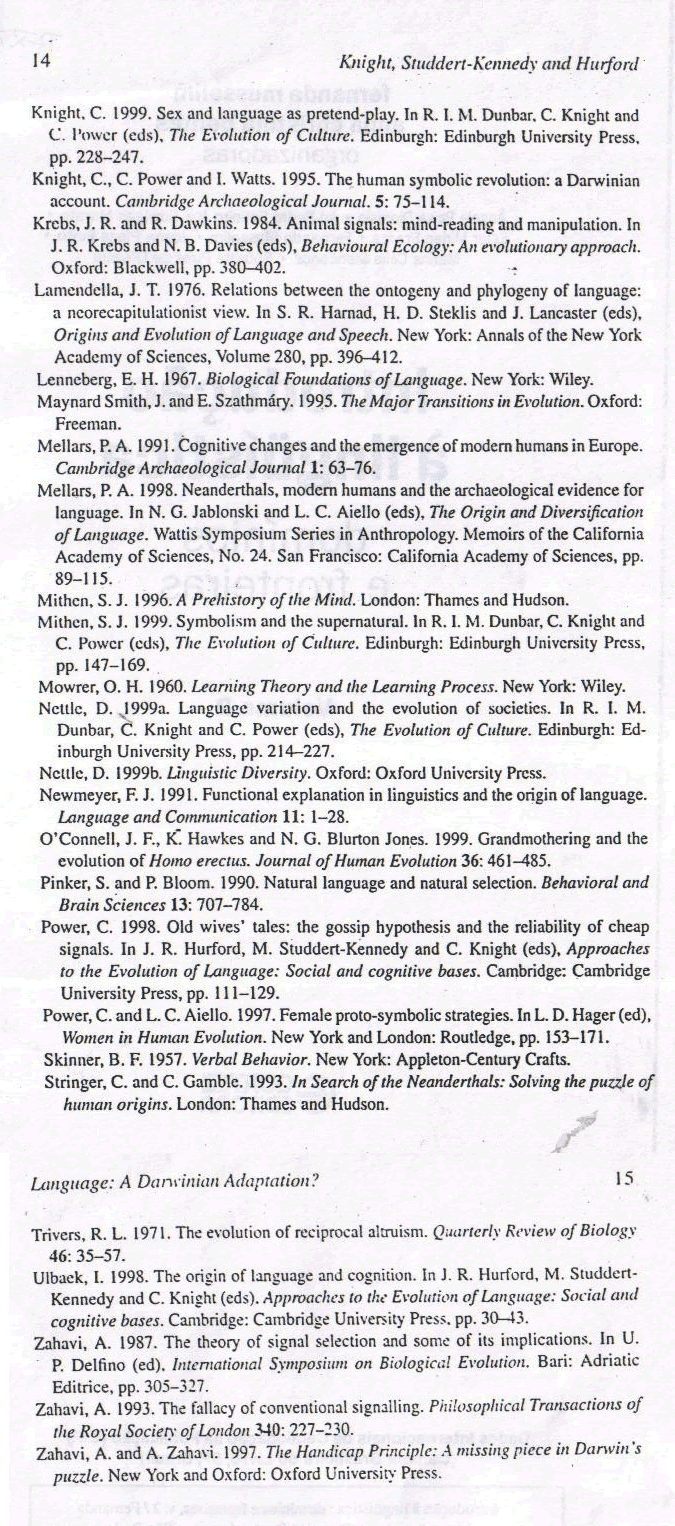|
Outras eEdições |
||||||
Tradução de: Knight, C. et al. Language: a Darwinian Adaptation? In: The evolutionary emergence of language. Cambridge, University Press, 2003, p. 1-15. Jaroslaw Jacek Jezdzikowski (PPGLL/Ufba) Língua: Adaptação darwiniana?
Stevan Harnad, numa pergunta dirigida a Noam Chomsky durante a conferência. (HARNARD, STEKLIS & LANCASTER, 1976, p. 57)
A língua, um dos fenômenos da vida na terra, permanece um grande mistério para a ciência. Por mostrar-se totalmente diferente dos sistemas não-humanos de comunicação, a língua desafia a teoria neodarwiniana da evolução através da seleção natural. A argumentação científica (em oposição aos argumentos filosóficos e teológicos) da descontinuidade entre a comunicação humana e animal, só evidencia-se nos últimos 40 anos. Na época, quando o behaviorismo dominava a psicologia e a lingüística da língua inglesa, a transição do grito animal para a língua humana não representava maiores dificuldades (cf. MOWRER, 1960; SKINNER, 1957). Mas a revolução gerativa na lingüística, iniciada por Noam Chomsky em 1957 com a publicação de Syntactic Structures, e desenvolvida em vários subseqüentes trabalhos (CHOMSKY, 1965; 1966; 1972; 1975; 1986; CHOMSKY & HALLE, 1968), alterou radicalmente a concepção da língua, tornando-se assim, um desafio para a teoria da evolução. A central tarefa do trabalho de Chomsky consiste em formalizar, com a precisão e o rigor matemáticos, as propriedades de uma gramática satisfatória, isto é, de um dispositivo para a produção de sentenças possíveis, e não impossíveis, de uma língua particular. Esta gramática, ou a sintaxe, permanece autônoma em relação tanto ao sentido da sentença, como também, a sua estrutura física (sons, letras, sinais manuais). Trata–se de um sistema, puramente formal, para a arrumação de palavras (ou morfemas) em um conjunto, que possa ser reconhecido por um falante nativo, como gramatical ou, pelo menos, aceitável. Chomsky demonstra que a estrutura lógica desta gramática é mais complexa, e muito mais difícil para ser formulada, do que se pensava. Os predicados descritivos desta gramática (categorias sintáticas, classes fonológicas) não são comparáveis com nenhum dos sistemas já conhecidos, no mundo, ou na mente. Mais ainda: o principio, ou a lógica, subjacente ao sistema das regras sintáticas, não se faz imediatamente reconhecível no nível da superfície dos enunciados (Lightfoot, neste volume), mas precisa ser, de algum modo, desta superfície concluído – uma tarefa que pode levar a decepção, mesmo um profissional em lingüística ou em lógica. Observa-se, também, que cada criança normal, aprende a língua materna, sem a introdução, ou a assistência especial dos adultos. Ao mesmo tempo, as simples tarefas analíticas estão muito além do alcance da criança. Motivado por este fenômeno, Chomsky (1965, 1972) propõe um dispositivo inato da aquisição da linguagem, que inclui um esquema da gramática universal (GU), a qual, por hipótese, cada língua deve obedecer. O esquema, um pequeno conjunto de princípios e parâmetros, que assumem vários valores em varias línguas, é altamente restritivo e assim permite, que a busca da gramática da língua que a criança está aprendendo, não se prolonga por um tempo impossivelmente longo. A especificação de parâmetros da GU e de seus valores em diferentes línguas, faladas e escritas, continua sendo a tarefa para o empreendimento gerativista. Colocando a língua no domínio de mente/cérebro, e não do grupo social a qual o individuo pertence, Chomsky rompe com as abordagens saussuriana e behaviorista, prevalecentes na lingüística e na psicologia anglófonas, da primeira metade do século XX. Ao mesmo tempo, devolvendo à língua seu status cartesiano da propriedade da mente (ou da razão) e da propriedade definidora da natureza humana (CHOMSKY, 1966), Chomsky reabre a língua para o estudo psicológico e evolucionista, profundamente adormecido desde “A origem do homem” (DARWIN, 1871).
O primeiro, a aceitar o desafio foi Eric Lenneberg (1967). Seu livro (para o qual Chomsky contribuiu com um apêndice sobre “A natureza formal da língua”) ainda hoje permanece uma das, mais biologicamente sofisticadas, mais bem pensadas e estimulantes introduções para a biologia da língua. Baseado em dados clínicos, comparativos e evolucionários, Lenneberg constrói a teoria do desenvolvimento epigenético, segundo uma relativamente fixa tabela da maturação, com os períodos críticos para o desenvolvimento da fala e da língua. Lenneberg vê na língua um sistema biológico, caracterizado por perceptuais, motoras e cognitivas formas de ação. Para explicar a evolução, ele propõe a teoria da descontinuidade, visando a compatibilidade do modelo com a biologia evolucional e com a estrutura única da língua. Outros pesquisadores não aceitaram as lacunas na reconstrução de Lenneberg. A Academia de Ciências de Nova York, obviamente interessada em descontinuidade implícita da lingüística moderna, decidiu em 1976, promover uma internacional conferência multidisciplinar intitulada: “As origens e o desenvolvimento da língua e da fala”. Abrindo a conferência, Stevan Harnad observou: Todos os aspectos do nosso relevante conhecimento, mudaram radicalmente, desde o século dezenove. Nosso conceito da língua foi totalmente alterado, tornando-se mais profundo e mais complexo. A revolução em lingüística, graças a Noam Chomsky, ofereceu idéias bem diferentes, sobre a possível natureza da meta do processo evolucionário (HARNARD, STEKLIS & LANCASTER, 1976, p. 1). Embora reunisse muitas diversas e proveitosas contribuições sobre todos os tópicos, que poderiam ter contribuído na evolução da língua, a conferência não respondeu aos desafios, previamente colocados. De fato, a maior conquista dela, mostrou-se ser, a revelação da gravidade da problemática, e da necessidade de um ataque focalizado mais à evolução da forma lingüística. O ataque vem primeiro por parte de Derek Bickerton (1981, 1990, 1995, 1998), um lingüista, especializado em pidgin e crioulo. Bastante controverso, Bickerton permanece no centro das discussões sobre a evolução de língua, por quase vinte anos. Alguns aspectos do trabalho dele merecem ser comentados. Primeiro, vem sua contribuição, para o debate sobre a continuidade/descontinuidade. Para evitar as dificuldades, Bickerton propõe, em vez de focar a comunicação, focalizar, o mais básico sistema de representação. A seleção natural favorece os sistemas de percepção e de representação do mundo. Isto acontece, porque o aumento da sensibilidade pelos aspectos do ambiente, produz vantagens de uns animais sobre os outros (cf. ULBAEK, 1998). A curiosidade, a atenção e a memória de longo prazo, exigem no decorrer da evolução, um sistema mais complexo de representação, que só pode ser fornecido pela língua: “A língua [...] nem é primeiramente um sistema de comunicação. Ela é muito mais um sistema de representação, um meio para a escolha e a manipulação do excesso da informação, que nos inunda, durante toda a vida” (BICKERTON, 1990, p. 5). Como e quando apareceu este novo sistema de representação? Segundo Bickerton, o primeiro passo foi efetivado pelo Homo erectus, entre 1,5 milhões e 500 mil anos atrás. Este foi um passo dado de vocalização dos primatas, para a “protolíngua”, isto é, um sistema arbitrário de referências vocais, usados como “uma espécie de rótulo a ser juntado, a um pequeno número de conceitos preexistentes” (BICKERTON, 1990, p. 128). A protolíngua de Bickerton é um precursor filogenético da verdadeira língua. Ela pode ser recapitulada em crianças (cf. LAMENDELLA, 1976), e treinada com os chimpanzés. Os usuários da protolíngua possuem o léxico referencial, mas não a sintaxe, nem os itens gramaticais. Bickerton justifica o conceito da protolíngua, como o modo unitário de representação, típico da nossa espécie, que emerge naturalmente e em formas essencialmente idênticas, devido a simples exposição às palavras. Isto acontece, não somente com as crianças abaixo da idade de dois anos, mas também, com as crianças mais velhas, privadas da língua no “período crítico”, e adultos, obrigados a comunicar-se em segunda língua, da qual dominam, apenas algumas poucas palavras. Os Pidgins do Caribe, do Pacífico, e dos marinheiros escandinavos e russos, no Mar da Noruega, são formas adultas da protolíngua. O passo final, o aparecimento da sintaxe em Homo Sapiens, traz mais dificuldades. Em seu primeiro livro, chamado Raízes da língua (1981), Bickerton argumenta, em favor da evolução gradual de um “bioprograma” sintático, um dinâmico processo epigenético, através do qual a língua desenvolve-se na criança, de acordo com o dado ambiente lingüístico. Ele salienta que “[...] a evolução não se deu de modo fulminante, mas, através de infinitas graduações” (BICKERTON, 1981, p. 221). Em seu segundo livro, porém, Bickerton (1990, p. 177) enfrenta as dificuldades lógicas, causadas pela concepção de uma “interlíngua”, como veículo da passagem da protolíngua para a língua moderna. Ele abandona seu projeto de bioprograma gradual, em favor da GU de Chomsky, e propõe uma explicação saltitante de sua origem. Para o suporte dessa explicação, ele recorre a três linhas de evidências. A primeira linha apresenta as evidências de fósseis, mostrando um repentino crescimento dos “kit de ferramentas” dos hominídeos (instrumentos afiados, pinturas nas cavernas, figuras de pedra, calendários lunares e outros artefatos) da “interface erectus sapiens”, sem um correspondente crescimento do tamanho do cérebro. A segunda linha de evidências está representada, por estudos do desenvolvimento das crianças, incluindo o surgimento das sintagmaticamente estruturadas línguas crioulas, de não estruturados pidgins, dentro de uma única geração. A terceira é a evidência da distribuição de DNA mitocôndrio na população moderna, que indica que todos os humanos descendem da única fêmea, que viveu na África mais ou menos 220.000 (+/- 70.000) anos atrás (CANN, STONEKING & WILSON, 1987). Bickerton propõe esta fêmea como a portadora de uma simples “mutação crucial”, que numa catastrófica cascada de seqüelas, reformatou o crânio, alterou a forma dos órgãos vocais e reestruturou o cérebro (1990, p. 196). Os proeminentes colaboradores para o debate sobre a evolução do comportamento “moderno” (por exemplo, KLEIN, 1995; MELLARS, 1991, 1989), reforçam a noção de um, geneticamente baseado, salto cognitivo. Mas, entre os biólogos evolutivos a Bickertonova macromutação – geradora de sintaxe, encontra a incredulidade e a forte critica. Como resposta, Bickerton (1981) modera sua posição e admite, um mais devagar, porém ainda rápido, processo de assimilação genética, por cumulativos “efeitos de Baldwin” (BALDWIN, 1896). Neste sentido, a sintaxe emerge pela precisão cognitiva dos papéis temáticos (Agente, Tema, Objetivo) que tinham evoluído por conta da importância social do altruísmo recíproco. Sem dúvida, a vigorosa crítica do Darwinismo saltitante de Bickerton, deve muito à mudança do clima intelectual dentro das ciências da vida, após da revolução do “gene do egoísmo” (HAMILTON, 1964; TRIVERS, 1971; DAWKINS, 1976). As implicações desta revolução (quebrando a barreira entre a lingüística gerativa e a lingüística evolutiva), trazem Steven Pinker e Paul Bloom, no comentado artigo Língua natural e seleção natural (PINKER & BLOOM, 1990). Neste artigo, os autores apresentam a faculdade humana para a língua (especialmente a capacidade para a gramática gerativa) como a adaptação biológica, explicável dentro da clássica teoria neodarwiniana (cf. NEWMEYER, 1991). O artigo publicado no respeitado periódico interdisciplinar, Behavioral and Brain Sciences situa, pela primeira vez, a evolução da língua como o legítimo tópico dentro das ciências naturais, iniciando o debate, que continua até o momento presente. Na disputa entre a gradual adaptação darwiniana e o cepticismo de Chomsky (dentre os outros), Pinker e Bloom reservam para si, uma tarefa modesta. Eles atribuem o módulo da língua a não-especificadas pressões seletivas, cujo início remonta ao estágio de australopiteco. Os autores se eximem de oferecer uma teoria mais precisa, ou testável, argumentando que os darwinianos não precisam tanto de novidades, como de providenciar as evidências, de que a nova adaptação – uma vez surgida – demonstra a conformidade. Os dois pesquisadores admitem, porém, dizer “virtualmente nada” (PINKER & BLOOM, 1990, p. 765) sobre as origens da língua. Ficam satisfeitos podendo estabelecer a língua como a adaptação biológica. As explicações sobre sua evolução cabem aos estudiosos da teoria darwiniana. Poder-se-ia supor facilmente, que a evolução da língua não seja problemática, na medida em que, ela beneficiava a todos. De fato, como aponta Nettle (1999a, p. 216), Pinker e Bloom, tomam esta posição em seu artigo: Existe óbvia vantagem em capacidade de adquirir as informações de “segunda mão”: mergulhando em vasto reservatório do conhecimento acumulado por outros indivíduos, evita-se duplicação de desgaste do tempo e do perigoso processo “tentativa – erro”, pelo o qual este conhecimento é produzido. (1990, p. 712). Porém, para que uma estratégia possa se desenvolver, além de proporcionar o beneficio, ela também precisa ser evolutivamente estável. Isto significa, que não pode existir uma estratégia alternativa que proporcione aos competidores resultados melhores. No caso da troca de informações, existem umas outras estratégias competitivas: indivíduos que mentem para alcançar benefícios; outros, que se beneficiando da cooperação, não contribuem em nada para o bem comum. Na maioria das circunstâncias, os indivíduos optando pelas estratégias alternativas, beneficiam-se mais, do que os outros, comprometidos com o contrato social (NETTLE, 1999a, p. 216). À luz das informações que se tem sobre o maquiavelismo e as estratégias desleais dos grandes primatas (BYRNE & WHITEN, 1988), torna-se bem menor, a viabilidade da aceitação “da informação de segunda mão”, como a estratégia adotada pelos primeiros hominídeos. Em outras palavras, era preciso, que existissem antes certos mecanismos adicionais contra a quebra do entendimento contratual, para que a língua pudesse se adaptar (NETTLE, 1999a; KNIGHT, 1998; POWER, 1998). Pinker e Bloom datam o nascimento da língua entre dois e quatro milhões de anos, argumentando que ela possibilitou aos hominídeos a partilha das memórias, o fechamento dos acordos, e a troca das informações sobre a localização da comida. Presume-se, neste modelo, que um semelhante estilo de vida desenvolveu-se nos grupos dos caçadores e colhedores, e existia já na época pleistocênica. Esta abordagem possui certa vantagem: cria um intervalo, bastante amplo, aparentemente suficiente para o desenvolvimento gradual de um postulado modulo complexo. Os arqueólogos do paleolítico, porém, não conseguem evidenciar um postulado nível de cooperação dos caçadores e colhedores, entre os australopitecos, ou outros hominídeos da época. O estilo de vida aqui postulado parece ser uma característica dos primatas. Embora os machos de Homo erectus fossem caçadores relativamente eficientes, eles nunca abasteciam os seus dependentes, levando a caça para o acampamento (O´CONNELL, 1999). Se estes hominídeos possuíram o uso da língua, parece ser curiosa, a falta dos efeitos disso, no material arqueológico: a falta de evidência do lar, da logística da caça, da ornamentação pessoal, da arte e dos ritos seladores do contrato social, tudo até o tardio Pleistoceno (BICKERTON, 1990; BINFORD, 1989; KNIGHT, 1991; MITHEN, 1996, 1999; STRINGER & GAMBLE, 1993). Enquanto aconteciam os referidos debates, o primatologista, Robin Dunbar (1993, 1999) interveio com a metodologia e o quadro explanatório, substancialmente novos. No trabalho interdisciplinar (primatologia e paleontologia), em conjunto com Leslie Aiello (AIELLO & DUNBAR, 1993), ele associa a evolução da língua ao rápido desenvolvimento do neocortex em Homo Sapiens, no processo datado entre 400.000 e 250.000 anos atrás. Pela primeira vez, este trabalho especifica as concretas pressões seletivas da teoria darwiniana, referente à evolução da língua. Como efeito, estabelece-se um modelo condizente com a teoria primatológica, e testável pelos dados da paleontologia e arqueologia. Dunbar (1993) observa que os primatas mantêm os laços sociais por meio da gesticulação. Este modo de comunicação é energeticamente mais custoso, possibilita dirigir-se cada vez a um só individuo, e ocupa ambas as mãos. Com crescimento dos grupos humanos, aparece a necessidade da vocalização. Esta é menos custosa energeticamente, libera as mãos, e possibilita dirigir-se de vez, a mais de um parceiro. Esta passagem, segundo Dunbar, deu-se dois milhões de anos atrás, com aparecimento de Homo erectus. No seu primeiro estágio, a vocalização não era um veículo do sentido, do ponto de vista lingüístico, mas parecia mais com o grito de contato. Com o aparecimento de Homo sapiens na África (400 milhões de anos), a vocalização começa adquirir o sentido (DUNBAR, 1996, p. 115). Uma vez presente o sentido, a espécie humana torna-se a possuidora da língua. Esta, porém, ainda não é a “língua simbólica”. Ela, de fato, permite um bate-papo, mas é inadequada para abordar os conceitos abstratos (DUNBAR, 1996, p. 116). A língua, no sentido moderno - como um sistema para a comunicação do pensamento abstrato – surge mais tarde, associada ao aparecimento do homem anatomicamente moderno, desempenhando novas funções ligadas a uma cultura simbólica mais complexa, incluindo a religião e os rituais. O modelo de Dunbar deixa várias questões sem a resposta. Os darwinistas chegaram ultimamente a perceber, que o alto custo energético da sinalização animal, sublinha a infalibilidade deste sistema de comunicação (ZAHAVI, 1987, 1993; ZAHAVI & ZAHAVI, 1997). Este fato exigiria de Dunbar, uma nova explicação a respeito de como exatamente, deu-se a passagem da gesticulação para a vocalização, a forma de comunicação menos custosa (POWER, 1998). Dunbar, também não explica a origem dos traços mais marcantes da língua: dupla e hierárquica estrutura da fonologia e da sintaxe. Ao invés de esclarecer as dificuldades, Dunbar parece minimizá-las, sugerindo a continuidade com a comunicação vocal dos primatas. Ele descreve a sinalização vocal do macaco Cercopithecus aethipos pygerythrus, como “uma protolíngua arquetípica”, uma fala, ainda que mal formada. Segundo Dunbar, estes macacos - por pouco, falam - quando emitem sons “quase arbitrários”, referindo-se “aos objetos específicos”. A gramática, explica Dunbar, está presente muito antes do aparecimento da língua, sendo ela o item central, para a cognição dos primatas, incluindo a inteligência social (BICKERTON, 1981). Dunbar não se refere ao problema de como o sentido foi associado com a preexistente vocalização sem conteúdo, chamando este desenvolvimento de “passo pequeno”, que não requer um esclarecimento especial (1996, p. 141). O autor, também não vê nenhuma dificuldade teórica no traçado por ele, cenário do bate-papo dos humanos pré-modernos, com a ausência do simbolismo e dispondo da vocalização, parecida com a língua, mas que não permite nenhuma referência aos conceitos abstratos. Para o psicólogo Merlin Donald (1991, 1998) e o neuro-cientista Terrence Deacon (1997), o item central na discussão sobre a evolução da língua, torna-se a questão, de como os humanos (cujos ancestrais não utilizam os símbolos) passam a representar o seu conhecimento na forma simbólica. Para eles, o aparecimento da palavra (como o veículo da referência simbólica) – sem a qual a sintaxe tornar-se-ia tanto desnecessária, como também impossível - torna-se o limiar da língua. O estabelecimento deste sistema básico de fala, com seu maquinário fonético de alta velocidade, com um sistema especial de memória e com a capacidade de imitação vocal – tudo isto, umas características unicamente humanas – torna-se o passo necessário, na evolução da capacidade lingüística dos humanos (DONALD, 1991, p. 236; DEACON, 1997, cap. 8). Quais são as pressões seletivas que influenciaram a evolução do sistema de fala? Donald (1991) parte da hipótese, que a mente humana é um híbrido das formas anteriores, ainda carregando em si, “o irremovível selo da sua baixa origem” (DARWIN, 1871, p. 920). Enquanto Bickerton vê as evidências da protolíngua na desordenada correnteza de palavras dos pidgins modernos, Donald evidencia a presença das formas pré-lingüísticas de comunicação. A gesticulação, a expressão facial, a pantomima, a vocalização inarticulada, ainda hoje, servem como recursos para os indivíduos privados da fala. Donald denomina este modo de comunicação com o termo “mimesis”. A mimesis exige o controle consciente e intencional das expressões emotivas, uma capacidade, muito além da competência dos outros primatas. A mimesis de Donald e a protolinguagem de Bickerton expressam o mesmo estagio da evolução, uma forma unitária de representação, particular a nossa espécie, que aparece e permanece independente da língua, presente como base expressiva na dança, no teatro, na pantomima e nos rituais. A dissociabilidade de mimesis da língua justifica a hipótese sobre a existência deste primeiro modo da comunicação, independentemente e antes do aparecimento da língua. Apesar de que, hoje em dia, observa-se a predominância da comunicação baseada na língua, não se deve subestimar o poder da mimesis. Donald constrói dois fortes argumentos: primeiro, da presença da cultura intermediária entre os primatas e Homo sapiens, e segundo, do valor do pré-lingüístico, mimético modo de comunicação, como a força da coesão social. Homo Erectus foi uma espécie relativamente estável por mais de um milhão de anos, espalhada por todo o continente euro-asiático. Suas ferramentas e o uso do fogo testemunham a complexidade da organização social, muito além da capacidade dos primatas. De particular importância, para a evolução da língua, deviam ter sido, as mudanças no modo de pensar e de comunicar-se, provindas da mimesis. A mimesis, argumenta Donald, lança os fundamentos para a expressão intencional nos hominídeos. Ela também coloca as bases, sobre as quais, a seleção natural opera, no sentido de elaboração de demandas cognitivas, e do estabelecimento do maquinário neuro-anatômico, que permita a emergência de palavras e da sintaxe, como veículos do pensamento e da comunicação simbólicos. É possível especificar, com mais precisão, a função simbólica exercida pelas palavras e pela sintaxe? Como se pode perceber, muitos lingüistas insistem no fato, de que a primeira função da língua não é a comunicação, mas sim, a representação conceitual. Se aceitarmos este ponto de vista, não teremos a priori, bases para considerar a língua, como um produto da emergência evolutiva de novas estratégias da cooperação social. A maioria dos capítulos deste livro, porém, apresenta um outro ponto de vista. A língua - incluindo o nível da representação - é intrinsecamente social, e podia somente ter se desenvolvido, sob a fundamental pressão da seleção social. Talvez, a mais sofisticada, a mais ambiciosa e a melhor elaborada apresentação deste argumento, é o livro de Terrence Deacon (1997), “As espécies simbólicas”, em que o autor mescla sutilmente as idéias provindas das ciências comportamentais e da neurociência. Deacon sustenta que a língua aparece junto com a necessidade do contrato social. O contrato, observa Deacon, não é um lugar no espaço, nem possui uma determinada forma física. Ele existe somente como uma idéia, entre as pessoas comprometidas em mantê-lo. O contrato é obrigatório – ninguém tem a permissão de violá-lo – porém, totalmente não-físico. Como, então, torna-se possível comunicar as informações sobre um item com estas características? Deacon observa que os primatas não humanos desconhecem a língua, justamente por não enfrentar o problema do contrato social. Quando se trata da comunicação acerca da realidade corriqueira, basta apontar para a semelhança com os itens concretos. Mas, quando os humanos começam estabelecer os contratos, as semelhanças e os índices, deixam de ser suficientes. Onde, no mundo físico, encontra-se a “promessa”? Existindo ela, somente em mentes daqueles que nela acreditam, não há alternativas, senão estabelecendo por convenção, um símbolo aceito por todos. Este símbolo, no cenário de Deacon, funciona originalmente, como um elemento do ritual que selava o compromisso. As pressões seletivas, associadas com o novo desenvolvimento dos rituais simbólicos, conduzem para a estruturação e a ampliação do cérebro dos primatas. Deacon argumenta que os contratos, cuja simbólica preparou os humanos para a competência lingüística, surgiram da necessidade das relações duradouras entre as fêmeas humanas e os parceiros masculinos delas, em função da criação de prole. Este argumento está intimamente ligado à tardia teoria darwiniana, sobre um suposto conflito de gêneros, entre as fêmeas e os machos humanos, e coloca as especulações sobre as origens da língua, nos domínios da antropologia - num sentido mais abrangente, incluindo presente discussão sobre a seleção sexual e a teoria da escolha dos parceiros - da paleoantropologia, da psicologia evolucionaria, da paleontologia humana, e da antropologia social. Se Deacon esta com razão, seu argumento traz mais força para a hipótese, de que a evolução da língua deu-se como uma estratégia da cooperação entre as fêmeas, e não entre os machos, como se reforçava até recentemente (DUNBAR, 1996; KEY & AIELLO, 1999; KNIGHT 1991, 1998, 1999; KNIGHT, 1995; POWER & AIELLO, 1997; POWER, 1998). Com toda a certeza, o trabalho de Deacon coloca o problema da evolução da língua, no plano novo. Este livro é um segundo volume, resultante de uma serie de conferências internacionais, sobre a evolução da língua. Na mesma maneira, como o volume que o precedeu (HURFORD, 1998), o presente volume dedica-se a uma crítica da evolução da língua, numa perspectiva pós-chomskyana. O livro limita-se aos artigos, que tocam diretamente os aspectos da forma, ou da função únicas da língua. Na introdução para o primeiro volume, encontra-se a observação sobre: “a interativa espiral evolutiva, que permitiu o desenvolvimento simultâneo, da individual capacidade lingüística e do sistema comum da comunicação simbólica” (HURFORD, 1998, p. 4). No presente volume, alguns artigos continuam discutindo esta espiral. Mas, a maioria dos artigos neste livro está dedicada, direta ou indiretamente, à transmissão da língua através das gerações. Uma das razões para isso é a preocupação dos autores com a função social da língua. Pois, somente esta função social, podia ter colocado a língua, às vias do desenvolvimento evolutivo. O reconhecimento deste simples fato foi retardado por Chomsky (1986), pela proscrição da língua externa (E-língua) - a saussuriana língua da comunidade - como um coerente objeto de estudo da lingüística e da psicologia. Os estudiosos da lingüística escolheram como o objeto do estudo, a língua interna (I-língua), uma propriedade estrutural de mente/cérebro individual. Esta focalização é atraente para os darwinianos, pois é o indivíduo, e não o grupo, a unidade mínima da seleção natural. Mas, deve-se pensar no fato, de que é somente pela exposição aos fragmentos da E-língua, que a criança aprende sua I-língua. Em outras palavras, somente pelo desempenho dos outros, pela língua, como ela se concretiza na vida social, o falante individual internaliza (e em efeito contribui para) a língua na qual está imerso. Necessariamente, os modelos teóricos de um processo social deste tipo são especulativos, e baseados nas hipóteses questionáveis; mesmo, se provindas dos fatos, como o alto custo da expansão do tamanho do cérebro, ou das evidencias fosseis da neuroanatomia. Nestes casos, os modelos matemáticos, tornam-se a melhor maneira de testar objetivamente as hipóteses. Jason Noble, neste volume, aplica a teoria de jogos para testar a teoria de Krebs – Dawkins, especulando sobre as condições sociais, cooperativas ou competitivas, dentro de quais, surgiu o sistema da comunicação (KREBS & DAWKINS, 1984). Num outro artigo, Mark Pagel continua as analogias entre as línguas e as espécies (DARWIN, 1871, cap. 3). Ele usa os métodos da estatística matemática para estimar a diversidade pré-histórica da língua e as taxas de modificação. O autor, também estima matematicamente, o papel dos fatores intrínsecos (glotocronológicos) e extrínsecos (ecológicos e culturais) da mudança lingüística. Talvez mais interessante é o modelo de simulação da interação social entre os falantes e os aprendizes (Bart de Boer, Simon, Kirby, James Hurford e outros). Neste trabalho, os aspectos da estrutura lingüística mostram-se crescentes, pela auto-organização provinda do processo da interação social. A simulação computadorizada do nascimento, do desempenho lingüístico no interagir social e da morte, dentro do grupo de indivíduos, promove uma nova visão da língua, como um sistema auto-organizante - uma visão pouco familiar para os biólogos, psicólogos e lingüistas. A idéia da explicação dos fenômenos grupais pelas premissas do individualismo darwiniano, não é totalmente nova. Reconheceu-se, há algum tempo, que os processos biológicos, envolvem complexas hierarquias, evidentes em mais do que um nível. A necessidade de distinguir entre os níveis analíticos e a possibilidade de modelar as maiores transições evolutivas entre eles, tornou-se um item central, para o darwinismo moderno (MAYNARD SMITH & SZATHMÁRY, 1995). Os genes nunca são altruístas. Hoje, discute-se muito, o “egoísmo” - no nível genético - que promove o altruísmo e a cooperação, nos níveis mais elevados. Muitos dos contribuintes deste volume argumentam que a comunicação lingüística emerge e diversifica-se, como uma expressão de, distintivamente humanas, estratégias de coalização. Neste modelo, não há evidências da incompatibilidade, entre o individualismo metodológico do darwinismo moderno e a focalização do nível de grupo, por parte das pesquisas sociais, cognitivas e lingüísticas (DUNBAR, KNIGHT & POWER, 1999; NETTLE, 1999b). A idéia comum dos artigos a seguir é que a língua não é simplesmente uma adaptação, e, portanto, necessita uma explicação darwiniana especial (MAYNARD SMITH & SZATHMÁRY, 1995). Esta opinião está explicitada na primeira parte do livro que aponta, os biologicamente anômalos, níveis da cooperação social, como responsáveis pela emergência evolutiva da língua. O tema volta na segunda parte, onde a emergência da competência fonética está associada com as pressões evolutivas da imitação vocal, da aprendizagem, e de outras formas da transmissão social. Finalmente, a idéia da emergência da sintaxe, como expressão de novas estratégias sociais e culturais, perpassa a terceira parte do livro. Resumindo, existe uma viável explicação darwiniana para a evolução da língua?
|
||||||
|

 Não existem razões para sustentar que Chomsky intenciona reanimar estes estudos. Embora perceba a lingüística como a ramificação da psicologia, e a psicologia como a ramificação da biologia, Chomsky vê os objetivos delas, como bastante distintos. A tarefa do lingüista é descrever a língua, assim como o anatomista o faz, quando descreve um órgão biológico, como por exemplo, o coração. Chomsky, de fato, conceitualiza a língua essencialmente, como o produto de um órgão (ou módulo) unitário, instalado no cérebro humano. O papel complementar do psicólogo é de elucidar a função da língua, e seu desenvolvimento no indivíduo. Os papéis do fisiologista, do neurologista e do psiconeurologista, são de mapear os mecanismos e as estruturas subjacentes da língua. Para o debate do evolucionismo, os trabalhos de Chomsky não trazem nada além de dúvidas acerca do papel da seleção natural, na formação da estrutura da língua. Este ceticismo origina-se, em parte, da opinião (compartilhada com vários outros lingüistas, por exemplo Bickerton, 1990, e Jackendoff, 1994) de que a língua não é, primeiramente, um sistema de comunicação, sobre o qual as pressões da seleção social poderiam exercer considerável influência, mas muito mais, um sistema de representação mental e de pensamento. Obviamente, Chomsky deixa para os outros pesquisadores, os itens de cunho social, psicológico e biológico, que seu trabalho tem levantado.
Não existem razões para sustentar que Chomsky intenciona reanimar estes estudos. Embora perceba a lingüística como a ramificação da psicologia, e a psicologia como a ramificação da biologia, Chomsky vê os objetivos delas, como bastante distintos. A tarefa do lingüista é descrever a língua, assim como o anatomista o faz, quando descreve um órgão biológico, como por exemplo, o coração. Chomsky, de fato, conceitualiza a língua essencialmente, como o produto de um órgão (ou módulo) unitário, instalado no cérebro humano. O papel complementar do psicólogo é de elucidar a função da língua, e seu desenvolvimento no indivíduo. Os papéis do fisiologista, do neurologista e do psiconeurologista, são de mapear os mecanismos e as estruturas subjacentes da língua. Para o debate do evolucionismo, os trabalhos de Chomsky não trazem nada além de dúvidas acerca do papel da seleção natural, na formação da estrutura da língua. Este ceticismo origina-se, em parte, da opinião (compartilhada com vários outros lingüistas, por exemplo Bickerton, 1990, e Jackendoff, 1994) de que a língua não é, primeiramente, um sistema de comunicação, sobre o qual as pressões da seleção social poderiam exercer considerável influência, mas muito mais, um sistema de representação mental e de pensamento. Obviamente, Chomsky deixa para os outros pesquisadores, os itens de cunho social, psicológico e biológico, que seu trabalho tem levantado.